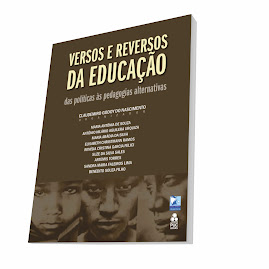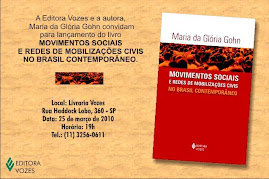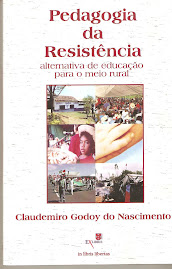Por Boaventura de Sousa Santos (FSP, 10/06/2008)
Ao contrário do que se pode pensar, a justiça histórica tem menos a ver com o passado do que com o futuro.
ENTENDE-SE por bifurcação a situação de um sistema instável em que uma alteração mínima pode causar efeitos imprevisíveis e de grande porte. Penso que o sistema judicial brasileiro vive neste momento uma situação de bifurcação.
O Brasil é um dos países latino-americanos com mais forte tradição de judicialização da política. Há judicialização da política sempre que os conflitos jurídicos, mesmo que titulados por indivíduos, são emergências recorrentes de conflitos sociais subjacentes que o sistema político em sentido estrito (Congresso e governo) não quer ou não pode resolver. Os tribunais são, assim, chamados a decidir questões que têm um impacto significativo na recomposição política de interesses conflitantes em jogo.
Neste momento, o país atravessa um período alto de judicialização da política. Entre outras ações, tramitam no STF a demarcação do território indígena Raposa/Serra do Sol, a regularização dos territórios quilombolas e as ações afirmativas vulgarmente chamadas cotas. Muito diferentes entre si, esses casos têm em comum serem emanações da mesma contradição social que atravessa o país desde o tempo colonial: uma sociedade cuja prosperidade foi construída à base da usurpação violenta dos territórios originários dos povos indígenas e com recurso à sobreexploração dos escravos que para aqui foram trazidos.
Por essa razão, no Brasil, a injustiça social tem um forte componente de injustiça histórica e, em última instância, de racismo antiíndio e antinegro. De tal forma que resulta ineficaz e mesmo hipócrita qualquer declaração ou política de justiça social que não inclua a justiça histórica. E, ao contrário do que se pode pensar, a justiça histórica tem menos a ver com o passado que com o futuro. Estão em causa novas concepções de país, soberania e desenvolvimento. Desde há 20 anos, sopra no continente um vento favorável à justiça histórica. Desde a Nicarágua, em meados dos anos 80 do século passado, até a discussão em curso da nova Constituição do Equador, têm vindo a consolidar-se as seguintes idéias.
Primeira, a unidade do país se reforça quando se reconhece a diversidade das culturas dos povos e das nações que o constituem. Segunda, os povos indígenas nunca foram separatistas. Pelo contrário, nas guerras fronteiriças do século 19, deram provas de um patriotismo que a história oficial nunca quis reconhecer. Hoje, quem ameaça a integridade nacional não são os povos indígenas; são as empresas transnacionais, com sua sede insaciável de livre acesso aos recursos naturais, e as oligarquias, quando perdem o controle do governo central, como bem ilustra o caso de Santa Cruz de la Sierra (Bolívia).
Terceira, dado o peso de um passado injusto, não é possível, pelo menos por algum tempo, reconhecer a igualdade das diferenças (interculturalidade) sem reconhecer a diferença das igualdades (reconhecimentos territoriais e ações afirmativas).
Quarta, não é por coincidência que 75% da biodiversidade do planeta se encontra em territórios indígenas ou de afrodescendentes. Pelo contrário, a relação desses povos com a natureza permitiu criar formas de sustentabilidade que hoje se afiguram decisivas para a sobrevivência do planeta. É por essa razão que a preservação dessas formas de manejo do território transcende o interesse desses povos. Interessa ao país no seu conjunto e ao mundo. Pela mesma razão, o reconhecimento dos territórios tem de ser em sistema contínuo, pois doutro modo desaparecem as reservas e, com elas, a identidade cultural dos indígenas e a própria biodiversidade. Esses são os ventos da história e da justiça social no atual momento do continente. Ao longo do século 20, não foi incomum que instâncias superiores do sistema judicial atuassem contra os ventos da história, e quase sempre os resultados foram trágicos. Nos anos 30, a Suprema Corte dos EUA procurou bloquear as políticas do "New Deal" do presidente Roosevelt, o que impediu a recuperação econômica e social que só a Segunda Guerra Mundial permitiu. No início dos anos 70, o Superior Tribunal do Chile boicotou sistematicamente as políticas do presidente Allende que visavam a justiça social, a reforma agrária, a soberania sobre os recursos naturais, fortalecendo assim as forças e os interesses que ganharam com o seu assassinato.
Em momentos de bifurcação histórica, as decisões do STF nunca serão formais, mesmo que assim se apresentem. Condicionarão decisivamente o futuro do país. Para o bem ou para o mal.
O Brasil é um dos países latino-americanos com mais forte tradição de judicialização da política. Há judicialização da política sempre que os conflitos jurídicos, mesmo que titulados por indivíduos, são emergências recorrentes de conflitos sociais subjacentes que o sistema político em sentido estrito (Congresso e governo) não quer ou não pode resolver. Os tribunais são, assim, chamados a decidir questões que têm um impacto significativo na recomposição política de interesses conflitantes em jogo.
Neste momento, o país atravessa um período alto de judicialização da política. Entre outras ações, tramitam no STF a demarcação do território indígena Raposa/Serra do Sol, a regularização dos territórios quilombolas e as ações afirmativas vulgarmente chamadas cotas. Muito diferentes entre si, esses casos têm em comum serem emanações da mesma contradição social que atravessa o país desde o tempo colonial: uma sociedade cuja prosperidade foi construída à base da usurpação violenta dos territórios originários dos povos indígenas e com recurso à sobreexploração dos escravos que para aqui foram trazidos.
Por essa razão, no Brasil, a injustiça social tem um forte componente de injustiça histórica e, em última instância, de racismo antiíndio e antinegro. De tal forma que resulta ineficaz e mesmo hipócrita qualquer declaração ou política de justiça social que não inclua a justiça histórica. E, ao contrário do que se pode pensar, a justiça histórica tem menos a ver com o passado que com o futuro. Estão em causa novas concepções de país, soberania e desenvolvimento. Desde há 20 anos, sopra no continente um vento favorável à justiça histórica. Desde a Nicarágua, em meados dos anos 80 do século passado, até a discussão em curso da nova Constituição do Equador, têm vindo a consolidar-se as seguintes idéias.
Primeira, a unidade do país se reforça quando se reconhece a diversidade das culturas dos povos e das nações que o constituem. Segunda, os povos indígenas nunca foram separatistas. Pelo contrário, nas guerras fronteiriças do século 19, deram provas de um patriotismo que a história oficial nunca quis reconhecer. Hoje, quem ameaça a integridade nacional não são os povos indígenas; são as empresas transnacionais, com sua sede insaciável de livre acesso aos recursos naturais, e as oligarquias, quando perdem o controle do governo central, como bem ilustra o caso de Santa Cruz de la Sierra (Bolívia).
Terceira, dado o peso de um passado injusto, não é possível, pelo menos por algum tempo, reconhecer a igualdade das diferenças (interculturalidade) sem reconhecer a diferença das igualdades (reconhecimentos territoriais e ações afirmativas).
Quarta, não é por coincidência que 75% da biodiversidade do planeta se encontra em territórios indígenas ou de afrodescendentes. Pelo contrário, a relação desses povos com a natureza permitiu criar formas de sustentabilidade que hoje se afiguram decisivas para a sobrevivência do planeta. É por essa razão que a preservação dessas formas de manejo do território transcende o interesse desses povos. Interessa ao país no seu conjunto e ao mundo. Pela mesma razão, o reconhecimento dos territórios tem de ser em sistema contínuo, pois doutro modo desaparecem as reservas e, com elas, a identidade cultural dos indígenas e a própria biodiversidade. Esses são os ventos da história e da justiça social no atual momento do continente. Ao longo do século 20, não foi incomum que instâncias superiores do sistema judicial atuassem contra os ventos da história, e quase sempre os resultados foram trágicos. Nos anos 30, a Suprema Corte dos EUA procurou bloquear as políticas do "New Deal" do presidente Roosevelt, o que impediu a recuperação econômica e social que só a Segunda Guerra Mundial permitiu. No início dos anos 70, o Superior Tribunal do Chile boicotou sistematicamente as políticas do presidente Allende que visavam a justiça social, a reforma agrária, a soberania sobre os recursos naturais, fortalecendo assim as forças e os interesses que ganharam com o seu assassinato.
Em momentos de bifurcação histórica, as decisões do STF nunca serão formais, mesmo que assim se apresentem. Condicionarão decisivamente o futuro do país. Para o bem ou para o mal.